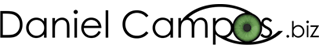Torresmos
O chão vermelho era mais poeira do que terra. Uma cor que tingia a roupa para desespero de quem fosse lavá-la. A minha camiseta manchada pelas patas vermelhas do dragão. Dragão? Não. Não estou em nenhum cenário de castelos e princesas em perigo. Mas meu avô deve ter mergulhado nesse mundo mágico para batizar aquele cachorro que tinha em si tantas raças. Quem sabe em seus genes não havia a genética de um dragão? Delírios. Fantasia e sol.
Andávamos pelo abacateiro. Ele, ao meu lado, corria, com o corpo esticado, como se mergulhasse e planasse no ar por alguns instantes antes de tocar o solo. Íamos juntos até o fim do pomar, mais de quinhentos passos de um metro. Ele comia alguns abacates que encontrava rachados pelo chão e, sobretudo, corria. Adorava correr. Perdi todas as corridas que apostamos. No começo, ele me dava uma colher de chá, mas depois começava os seus mergulhos e me vencia.
Era negro. Tinha um risco branco no peito e na ponta dos dedos. De resto, era negro. Tinha um latido forte e compassado, como a dos bons tempos da bateria da Estação Primeira de Mangueira e uma estranha mania de enlaçar suas mãos na perna da gente. Um abraço desengonçado. Quantos os tombos aquele dragão já havia me dado. E além de enrolar suas mãos em nossas pernas, ele serpenteava em nossa frente, pulava em nosso peito, em nossas costas. Queria, na verdade, levarmo-nos para perto daquela terra vermelha, daquele seu mundo de pegadas, daqueles seus olhos de fogo.
Um cachorro que quase morreu quando filhote, que fora criado com as galinhas. Que ganhou um nome forte para ver se vingava. Pudera, seu antigo dono o chamara de mosquito. Cachorro algum haveria de sobreviver com um nome desses. Nessas horas eu me admirava com a sapiência de meu avô. Ele sabia que um nome poderia mudar o destino. E ele, como um grande batizador, mudou o destino. Mas o destino, às vezes, é mais selvagem e traiçoeiro do que pensamos.
É sábado e lá estou eu. Sentado no assento do ford major. À minha frente, a sede do sítio, a estrada de terra, a linha do trem. Às minhas costas, o pomar de abacate. Em cima da minha cabeça, telhas romanas e teias de uma aranha latina. Sob os meus pés, os estribos do trator e o prato de comida, a vasilha de água e a coberta de Dragão. Ele, como o guardião de um tesouro, dormia embaixo daquele trator cinqüentenário vindo da Inglaterra. Em minhas mãos, a marmita feita com carinho pela avó. Arroz, feijão e torresmo. No prato de Dragão, arroz com carne desfiada. Tinha por volta de um ano. Naquele dia, como em tantos outros sábados, almoçávamos juntos. Sábado, eu ocupava a posição do meu avô e almoçava em sua companhia. Meu avô almoçava um pouco mais adiante.
Meu avô abriu mão, para mim, do último almoço de sábado com a companhia de Dragão. Coisas de vô. Na quinta-feira de manhã, o trem, aquela cobra de ferro que corta o sítio há vários anos, seria traiçoeiro com ele. Sem mergulhos, sem correria, sem festa... o corpo negro vinha no colo. Ora do meu avô, ora meu. O olhar duro, o corpo desgovernado. A morte vinda da boca do veterinário. Os olhos estatelados, as mãos da despedida. O silêncio da perda calou o grito de dor. Os olhos de separação, o rabo parado, cortado, ensangüentado. Tudo era negro. Tudo era sangue. Tudo era luto. Tudo era snague.
Voltei-me para trás e ele com um esforço tamanho, conseguiu virar a cabeça e me olhar indo embora. Nossos olhos se misturaram por alguns minutos. Meus olhos verdes e seus olhos caramelos. Não teve uivo, não teve grito. O silêncio nos tomou. Longe das vistas dele, meus olhos verdes choraram junto ao verde dos olhos do meu avô. Talvez ninguém mais compreendesse aquela perda.
O sítio vazio num frio atrasado de meados de setembro. Ali, perto daquele trator, o barulho dos torresmos. Coisas do vento. Dragão fazia um barulho que acusava ao meu avô que tinha dado parte da minha mistura pra ele. Mas não havia espaço para condenações. Eu apenas repetia o que meu avô fizera tantas vezes. Dragão comia de gosto. Como um terrorista da pior espécie, o silêncio, naquele onze de setembro, lançou-se contra as torres de um mundo próprio, calando latidos e o barulho de torresmos.
Comentários
Nenhum comentário.
Escreva um comentário
Participe de um diálogo comigo e com outros leitores. Não faça comentários que não tenham relação com este texto ou que contenha conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. Eu me resguardo no direito de remover comentários que não respeitem isto.
Agradeço sua participação e colaboração.