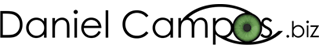Se eu morrer de amor
Fotografia de conhaque
Um leve toque na campainha. Parece não haver ninguém em casa. O olhar se confunde nos riscos do relógio. Suspiros. A campainha soa novamente. O som percorre cada milímetro da vida que adormece lá dentro e não traz resposta alguma. As mãos pensam em bater na porta, mas desistem na metade do caminho. Mais uma vez, os ponteiros e os riscos do relógio. Mais suspiros.
Balança a cabeça em sinal de desconsolo. Sem mais esperas, pega a chave no bolso. Disfarça. Um sorriso fechado. Um cumprimento tímido ao casal do apartamento da frente. Um casal que segue de mãos dadas. Por um instante, o olhar acompanha os enamorados, noutro se enche da areia daquele imenso deserto. Um deserto solitário, sem camelos ou odaliscas. Sem querer, assusta-se com os próprios pensamentos e os olhares se perdem no corredor vazio.
Controla a respiração. De repente, abre a porta. Um desespero contido. Começa a pisar em um tapete felpudo, aparentemente novo, quase intacto. Não haveria necessidade do ?quase? se não fosse por algumas pegadas que ele insiste em deixar ali. Devagar, a luz começa a cair de algumas lâmpadas. A vida se espalha. O paletó se dependura nas costas da cadeira. A maleta se debruça sobre a mesa de canto. O celular, desligado, fica pela estante. Os passos revêem tacos, pisos e mais tapetes. E quem sabe, mais pegadas. De volta a um labirinto conhecido. Salas, cozinhas, banheiros, quartos... Era como se procurasse algo que jamais fosse reencontrar. Feliz ou infelizmente, tinha plena consciência disso.
Uma respiração funda e longa, como se quisesse sentir cada batimento cardíaco por inteiro. Por alguns minutos, esquece a busca e afrouxa o nó da gravata. Mas só por alguns minutos. Então, ele abre geladeiras, janelas, guarda-roupas... Contudo, não encontra quaisquer vestígios de jantar, de vultos, de vestidos nos tantos cabides solitários que continuam no mesmo lugar.
Os braços se abrem em sinal de liberdade ou de pura preguiça. Deixa os sapatos cansados ao lado da cômoda. Desabotoa a camisa com a força de um desabafo. Liga o chuveiro. Não importa se sol, chuva, dia, noite, ontem, hoje... Independente do tempo que se faz lá fora, a temperatura da água é sempre a mesma. Quartos de horas depois, a água deixa de escorrer e os olhos se vão ainda molhados, ainda embaçados de vapor. Passos confusos.
Desliza a mão sobre o lençol da cama de casal, como se buscasse algo, ou melhor, alguém. E mesmo sem se conformar, o espelho o faz acreditar em algo. Talvez acreditar que continuava a existir. Ainda em frente ao espelho, ensaia uma conversa e descobre que não tem nada de novo para contar. No espelho, tempos depois, os olhos voltam a se encontrar. E não há nada de espanto ou de estranho. Só há uma vontade de voltar. Uma vontade de não sentir saudade. Uma vontade de quebrar o espelho.
Volta à sala, acomoda-se no sofá de almofadas manchadas e escuta mensagens da secretária eletrônica. O patrão querendo saber daquele relatório; a mãe perguntando sobre o próximo fim-de-semana; uma moça, até que simpática, vendendo um curso de meditação... e mais nada. Certamente, não pensara que esta vida povoada de faltas pudesse existir além das páginas daqueles livros que nunca deixaram a estante. Esfrega o dorso das mãos nos olhos. Depois de fazer perguntas que só ele era capaz de escutar, pega o telefone, digita alguns números, escuta o chamado e, dois ou três toques depois, desliga.
Vai até a janela de imensos vidros translúcidos. A vista, com mares e montanhas, parece ser coadjuvante. Lá do décimo primeiro andar o mundo se mostra grande demais. As pessoas que passam nas ruas são minúsculas em relação ao mundo que se espalha por todo o horizonte. A vida humana se sente insignificante diante do anoitecer. As estrelas mais apressadas chegam para lhe desejar boa-noite. A lua, sempre atrasada, demoraria um pouco mais. Coisas de mulher. Entretanto, ele sempre a esperava sem reclamar.
Sem avisos prematuros, vai para uma mesa onde não há nada senão um porta-retrato no centro e um vaso de vidro com algumas flores frescas. Flores que trocava toda manhã. Todavia, a cor das pétalas não mudava. Liga o aparelho de som e um saxofone invade a sala. Um solo de saxofone. Esboça alguns passos, os mesmos passos de sempre. Passos lentos. E a dança, sem maiores razões de continuar, desfaz-se tão logo começa.
Não sabe a hora, a data, o lugar... Sabe apenas que ninguém chegaria. Porém, não gosta de admitir suas poucas certezas. Tranqüilamente, apanha uma garrafa de conhaque na estante e inicia uma espécie de ritual. O copo vazio, cheio de ausência, é preenchido pelo líquido amargo. O álcool, mais uma vez, assume o papel de morfina. Quando o conhaque se acomoda no copo, ele o eleva à altura digna de um símbolo sagrado. E permanece longos instantes com os olhos fixos, sempre voltados para aquele líquido fosco. Vez ou outra, sente o aroma, mas logo se afasta do copo. É como se rostos surgissem naquele copo. Rostos que só ele é capaz de identificar.
Pouco a pouco, degusta o sabor. A cada gole, uma nova lembrança. Se é que lembranças são novas. De repente, pega algumas folhas e começa a escrever. Folhas brancas e letras negras, azuis, vermelhas... Palavras. Lentamente, naqueles pedaços de papel, a noite se derrama em mistérios e a vida nasce (renasce) em uma mistura de dor e fantasia, com doses de música, mulher e conhaque.
Comentários
Nenhum comentário.
Escreva um comentário
Participe de um diálogo comigo e com outros leitores. Não faça comentários que não tenham relação com este texto ou que contenha conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. Eu me resguardo no direito de remover comentários que não respeitem isto.
Agradeço sua participação e colaboração.