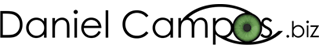Eu quero uma casa no campo
O dia, da minha janela, amanheceu nublado. Embora ainda não haja enxurrada, já aflora das nuvens mais fagueiras o cheiro da chuva. Um cheiro esquecido, adormecido, perdido. Os pedaços de prédios que vejo daqui estão todos com suas janelas fechadas e assim se mostram ainda mais brutos como grandes totens emburrados. Não há ninguém debruçado nas sacadas, soltando maranhão da janela, mordiscando maçãs do amor no parapeito, tampouco fazendo caretas nos vidros temperados numa falta de sal e açúcar. No caminho de pedra, que serpenteia sob as minhas vistas, não passa ninguém. Os atletas, os trabalhadores, os foliões, os pedintes, os apaixonados, os sonhadores, os ladrões, os cachorros de coleira e os carrinhos de bebê devem estar internados dentro de casa por conta do "tempo feio", como gostam de dizer por ai em dias como o de hoje.
Pelas bocas de lobo famintas do asfalto, carros pingados passam com vidros fechados e acelerando mais e mais forte na tentativa de escapar da chuva que ainda nem começou. São tantos resmungos tantas lamentações tantos desprazeres emanando de uma gente que maldiz a chuva e suas crias. Eu pareço ser o único a desejar aqueles pingos com o ardor de uma seita. Não é por menos, a chuva é a manifestação maior de um deus artista. Pintura, poesia, teatro, dança em uma mesma tela. Afinal, tudo se renova e se revigora e se tinge a partir da chuva.
Corro de janela em janela e não vejo ninguém. Há um silêncio devastador correndo lá fora. Sinto como se estivesse no meio do deserto do Saara e o céu estivesse nublado. E vai chover. Esta é a sensação que impera. Um deserto consome tudo e todos lá fora e a chuva é a única esperança para que brotem novos sonhos, novos sorrisos, um novo adão e uma nova eva. Ah! Como seria bom dessa janela enxergar adão e eva brincando, dançando, correndo na chuva. O único sentimento incômodo é que se uma nova humanidade nascesse ali, no meio da rua, no meio da chuva, eu seria o único a testemunhá-la. Egoísta ou não, eu queria dar as boas vindas para essa nova civilização.
Mantenho os olhos na janela que vai ficando mais e mais distante. Quando dou por mim, acordo ao som de um galo carijó. Podem rosnar os críticos musicais, mas o cantar de um galo carijó é diferente dos cantos do índio, do vermelho e do garnisé. Há uma dissonância entre os graves e agudos daqueles tenores que se empoleiram pela cerca. E antes de abrir os olhos, sinto os respingos de chuva sorvendo pelo telhado sem forro. Um sereno que vem acompanhado pelo tilintar dos pingos nas telhas de barro. Para meu deleite, uma aranha faz acrobacias em uma das vigas. Alonga, contrai, espicha, vai e volta e desce e sobe como um ioiô enquanto tricota uma nova teia.
Estranho. Não me recordo de ter dormido nem de ter ido me deitar naquela casa sem forro. Tampouco de ter me coberto com aquela colcha de retalhos ou deitado naquele travesseiro enchido com as últimas painas que vestiram de branco a velha paineira no último outono. Embora as dúvidas sejam muitas, há momentos em que é melhor trocar os pensamentos pelos sonhos. Levanto em busca de uma janela. Os pés tocam o assoalho de madeira e escutam os ecos de um porão onde há uma dezena de patos colocando ovos, chocando e contando para os pequeninos a história do patinho feio.
As mãos encontram a madeira carunchada das folhas da janela. Empurro-as e o dia amanhece chuvoso. Os prédios emburrados sumiram, o caminho de pedra onde não passava ninguém sumiu, o asfalto de carros apressados sumiu. Dali, eu vejo um pé daquelas ameixas caipiras, um pé frondoso de manga espada e um pé de pitanga madurinho. O vento de chuva ganha o cheiro das ameixas amarelas, das mangas verdes e das pitangas vermelhas. Eu que há pouco estava sentindo o mau-humor do vento, agora me lambuzo daquele sopro de tempo que além de cores, ganha perfumes, sabores e texturas.
Embora chovesse, as galinhas se molhavam ciscando em busca do milho, os porcos rolavam na lama, o gado mugia longe, os cachorros corriam para lá e para cá, os pássaros voavam e bailavam e cantavam e havia um converse sobre amenidades. Meus ouvidos tão habituados a escutar as taxas dos juros do Banco Central, o número de assassinatos e o último escândalo político, escutam agora os sentimentos caipiras. E eu ainda entendia aquela linguagem. Definitivamente, sou caipira de nascimento e formação.
Deixo a janela e vou à busca de um perfume negro. Um bule assovia deixando escapar o cheiro do café ao lado do braseiro do fogão à lenha. Rapidamente o cheiro se casa, em comunhão total de bens, com o aroma da erva doce do bolo de fubá que esfriava sobre a mesa de madeira. Réstias de alho e gomos de lingüiças e toucinhos se dependuravam nos caibros daquela cozinha. Escorro o café na xícara, esfarelo o bolo na mão e sopro a nata grossa do leite recém trazido do curral.
Em cima da geladeira, um pequeno copo de café para um São Benedito tão negro quão a imagem de Nossa Senhora Aparecida que se impõe ao lado de um rádio velho que canta modas de Sérgio Reis, Renato Teixeira, Tonico e Tinoco, Zé Mulato e Cassiano... Mas eu quero ouvir a música lá de fora. Sem pensar duas vezes, saio. O chapéu de palha fica pendurado nas costas da cadeira. Não há sol e eu não quero me proteger da chuva.
Os cachorros pulam e me marcam com suas patas de um barro avermelhado. O sabiá canta alto no galho da jabuticabeira. Há barulho de crianças brincando, de gente conversando, de um trator tangendo longe. Mas não vejo nada, nem ninguém. Não há raios nem trovões, só uma chuva mansa salpicando aquela terra que guarda tantos passos. Passos de valsa, de bolero, de tango. E eu ando campeando aquelas vozes que contam causos, que falam da plantação, que chamam os bois, que louvam a chuva, que brincam com as crianças, que fazem uma verdadeira festa naquele terreiro. Ando, ando e ando e não encontro a carne e o osso das vozes. Vozes que ora pareciam estar ali ora pareciam ser só ilusões. Coisas da chuva.
De repente, aquelas conversas vão ainda para mais longe. Sinto escorrer pelo meu pescoço o frescor de um beijo de chuva. Entre os braços e abraços da minha bem amada, vejo os prédios com a cara amarrada, o caminho de pedra onde não passa ninguém e o asfalto com os carros correndo, correndo, correndo para o mesmo lugar. Ficamos ali, os dois, como adão e eva na esperança de que aquela chuva florescesse um novo jardim, um novo caminho, um novo mundo. Entre nuvens grossas e beijos molhados, num rádio, um pouco mais moderno do que aquele do sítio, Elis Regina canta "eu quero uma casa no campo"...
Comentários
Nenhum comentário.
Escreva um comentário
Participe de um diálogo comigo e com outros leitores. Não faça comentários que não tenham relação com este texto ou que contenha conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. Eu me resguardo no direito de remover comentários que não respeitem isto.
Agradeço sua participação e colaboração.