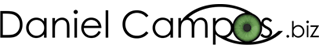Entre o passado e o presente
Pagão
Nasci João Batista Aragão. Nasci pagão em dia santo. Dia de São João. Dia de samba. Dia forte. Nasci com as benções dos santos e com as tentações do pecado. Ainda pequeno meu registro perdeu o valor. Gostava tanto do Estácio que comecei a ser chamado de Estaciozinho quando eu tinha quatro anos de idade. Mas o nome era muito grande. Vem cá Estaciozinho. Pega a cuíca Estaciozinho. Juízo, heim, Estaciozinho. Então comecei a ser Zinho. Como já havia um monte de Zinho, virei Zinho Preto.
Embora o Zinho 7 cordas, o Zinho da Conceição, o Zinho Bem-te-vi, o Zinho Vira Todas também fossem pretos, ninguém levava a cor em seu sobrenome. Definido o imbróglio, batizaram-me de Zinho Preto. Meu avô, muito gozador, pegou uma bacia d?água, mergulhou minha cabeça, passou um galho de arruda na minha testa, bateu um surdo e disse: pronto, agora você é Zinho Preto, Estácio até morrer.
E foi assim que eu nasci de verdade. Hoje, quase oitenta anos depois, eu continuo sendo preto e continuo sendo Estácio. Não moro mais lá, não sambo mais lá, mas é como se eu continuasse lá. Tem horas em que eu vejo o sorriso largo do Ismael, escuto uma cuíca gemendo, sinto o perfume do feijão da dona Dalva. Tudo tão nítido, mas é só passado. Coisas da cabeça desse velho que já viu tantas coisas. Não sei como te explicar meu jovem, mas para continuar amando a minha escola precisei deixá-la. É difícil entender, mas renunciei ao meu casamento com o Estácio por amor. Amor de verdade.
Quarta-feira de cinzas de 1977. Fim de carnaval. Restos de fantasia ainda se debruçam pelas ruas, foliões já choram de saudade, amores jurados para a vida inteira na terça-feira voam ao primeiro vento e se desmancham longe dos pierrôs e das colombinas. Nesse cenário apertado de emoções, Zinho Preto desce o morro com uma mala de couro nas mãos.
Aquele malandro deixou o Rio e navegou por São Paulo, por Minas Gerais, por Goiás e por Brasília. Foi de um tudo nessa vida. Marceneiro, pintor, jardineiro, serralheiro, servente e pedreiro, padeiro. Embora a profissão de padeiro tenha durado apenas um dia, posto que perdeu uma fornada inteira de pães ao puxar o cavaquinho e cantar para a freguesia, ele faz questão de colocá-la em seu currículo. Mas com o peso da idade, a força foi se esvaindo e o obrigando a adotar uma profissão fixa. Por capricho do destino se tornou sapateiro. A profissão que seu pai lhe ensinou ainda criança e ele nunca quis levar adiante. Zinho trabalhava durante o dia e quando a luta tomava os céus, cantava nos bares, nas esquinas, nas praças, onde houvesse gente. Era como se aquele que foi batizado de filho do Estácio, depois de criado, teve que voar. Voar para ser um pássaro do samba, um mensageiro de um Estácio que só existia dentro dele, um semeador de uma história que as ondas do tempo não conseguem apagar.
Procura
Se procurarem por mim
É fácil
É fácil de me achar
É só bater lá no Estácio
No velho Estácio
Pra me chamar
Se procurarem por mim
É fácil
É fácil de me achar
É só rasgar um cavaquinho
Que eu venho
Que eu venho miudinho
Pro samba sambar
Eu sou o samba sem fim
Sou Estácio
Sou bamba
Se quiserem samba
É só chamar por mim
No toque de um tamborim
As mãos tremem ao segurar o cavaquinho, mas a voz continua firme. Firme como o olhar negro que fita o firmamento e voa por outros tempos, por outros lugares, por outros olhares.
Sem espelhos
A vassoura de piaçava ao lado do all star rosa. A porta do apartamento do assessor parlamentar Antônio Ferraz se abre na 305 Sul, mas quem está do outro lado é uma senhora simpática de sorriso também simpático segurando uma vassoura. Nome: Maria Aparecida Raposo das Neves. Apelido: Cidinha. Profissão: Trapezista. Trapezista? Desculpa, na verdade, sou diarista. Isso mesmo, Cidinha, uma das estrelas do Circo de Paris, fundado por seu pai, trabalha como diarista para o assessor de um político, que cá entre nós, nunca brilhou como ela.
Naquela tarde de sexta-feira os patrões não estavam em casa. Antônio estava na Câmara dos Deputados, sua mulher, Ana Paula, no salão de beleza, e sua filha, Beatriz, no Pátio Brasil Shopping. Cidinha passava manhã, tarde e noite de segunda a segunda naquele ambiente. Acomodava sua vida em um quadrilátero minúsculo, de menos de 5 metros quadrado, também conhecido como o ?quarto da empregada?. Cidinha não tinha casa, marido, amante, namorado, noivo, filho, papagaio. Sua vida rodopiava em torno da família Ferraz, com quem trabalhava há quase dez anos.
Uma cama de solteiro forrada com uma colcha rosa coberta de franjas, uma cômoda de cerejeira que faltava o último puxador, uma televisão de 14 polegadas e dois porta-retratos, o primeiro guardava uma foto sua com quinze anos. O segundo... Bem, o segundo fica para depois. Ao lado desses porta-retratos, alguns produtos estéticos da de uma marca popular, uma escova de cabelo e um carnê de uma loja de eletrodomésticos famosa. Comprei um discman à prestação, assim posso deitar e dormir escutando Fábio Júnior. Gosto mais de ficar ouvindo música do que de ver televisão. Com música a gente sonha mais.
Cidinha sonhava com uma saudade. Se pudesse voltar no tempo. Tempo. Talvez por isso seu quarto não tivesse espelhos. Talvez assim, sem ver as marcas que os cinqüenta anos de vida tatuaram em seu rosto, ela pudesse viver no mundo de uma magia perdida.
No mundo possível, Cidinha tinha de acordar às 6 horas da manhã e se entregar à rotina dos verbos cozinhar, varrer, lavar, limpar, encerar, passar, arrumar... E depois de conjugar todos esses verbos em primeira pessoa, Cidinha, lá pelas oito horas da noite ia para o seu quarto, colocava os fones no ouvido sonhava com o passado.
Bailarina
Respeitável público, o grande Circo de Paris tem o prazer de anunciar a bailarina dos céus, aquela que faz nosso coração bater mais forte. Respirem fundo porque vem aí, Bárbara. Bárbara? Isso mesmo, seu nome artístico. Já pensou se o locutor fosse me chamar de Maira, de Aparecida, de Cidinha. Eu precisava de um nome que causasse impacto na platéia. Então, escolhi Bárbara. No circo, deixei de ser Cidinha para ser Bárbara. Desfeita a confusão, voltemos ao sonho. Respirem fundo porque vem aí, Bárbara. E ela vem com um maio de malha, bordado com centenas de lantejoulas azuis, uma sapatilha branca, o rosto maquiado, o cabelo preso num coque e uma capa de cetim azul. Capa que ela deixava cair quando chegava ao topo do trapézio a mais de dez metros do chão.
Com a platéia emudecida pela ansiedade, ela segura no trapézio e voa. Um balé nos céus de lona e nos olhos de quem acompanha tudo com o medo da morte. Não há espaço para a rede de proteção durante o espetáculo. Qualquer deslize levaria seu corpo de quarenta e oito quilos ao chão de serragem. E para aumentar o desespero dos que fecham os olhos com as mãos, enxergando só pelas frestas dos dedos, Bárbara solta o trapézio e pula. No vazio ela encontra as mãos de Lúcio, também trapezista, o homem que mais amou na vida. Era de Lúcio a imagem que o outro porta-retrato emoldurava. Corpo atlético, cabelos loiros, olhos claros e um sotaque argentino que não cabia na fotografia.
Os olhos piscam incessantemente. O rosto ganha mais algumas linhas de expressão. Linhas de dor. E as mãos nuas de aliança seguram o porta-retrato como se segurassem um amor, uma história, um tempo que ficou suspenso em sua vida...
Solitário
As cortinas se abrem próximas ao encontro dos hemisférios e meridianos do Distrito Federal. Ali, o leste abraça o oeste. E o norte se enlaça ao sul. Estamos alguns palmos debaixo da terra. Mais precisamente no subterrâneo do Teatro Nacional diante da sala Villa-Lobos e de 1.499 poltronas esverdeadas aparentemente vazias. A única cadeira fisicamente ocupada recebe o meu corpo.
No palco, um homem solitário em suas solidões. O rosto cheio de sensações. Um certo desconforto. Eduardo e o palco, o palco e Eduardo. Velhos amantes. Uma separação forçada repleta de traumas. Suas muletas rabiscam o palco ao tentar fazer com que os pés toquem o máximo de espaço. Os pés querem vasculhar cada centímetro quadrado daquele tablado. Pés descalços. Ele esperou tanto tempo por esse reencontro. Ele negou tanto tempo esse reencontro. E entre suas fugas e seus desejos, ali estava ele. Parecia não acreditar no que seus próprios olhos lhe diziam. Não dava mais para fugir. E ele também não queria mais fugir.
O espetáculo vai começar. Nas outras cadeiras, centenas de amigos de Duda... Amigos dos tempos de glória, que há anos não recebem um telefonema, uma carta, uma visita dele. Nas outras cadeiras, centenas de fãs, que há mais de 30 anos não sabem por onde anda Eduardo. Nas outras cadeiras, centenas de sonhos de Eduardo, que já não sonham mais. Centenas de esperanças de Eduardo, que já não esperam mais. Centenas de momentos que ficaram esquecidos, propositalmente, nos véus da história. Em uma cadeira especial, uma mulher, Alice, o ápice e a queda de Eduardo.
Naquele momento ele já não é mais Eduardo, não é mais Duda, é Orfeu. E Alice, Afrodite.
O seu rosto se ilumina por uma fresta de luz e se transforma. É como se rejuvenescesse anos a fio. O sorriso, o medo, a ansiedade de menino voltam a sua face. De repente, a postura da voz de Eduardo, como há tempos seus próprios ouvidos não escutam, rompe o silêncio. Eduardo conversa consigo em uma linguagem tão única. De seu corpo nasce, cena a cena, verso a verso, emoção a emoção, um monólogo. Não havia nada combinado, mas o destino, que aguardava ansioso por essa apresentação, tratava de mexer seus pauzinhos.
Licença, poetinha...
Mulher mais adorada!
Agora que não estás, deixa que rompa
O meu peito em soluços! Te enrustiste
Em minha vida; e cada hora que passa
E' mais porque te amar, a hora derrama
O seu óleo de amor, em mim, amada...
E sabes de uma coisa? cada vez
Que o sofrimento vem, essa saudade
De estar perto, se longe, ou estar mais perto
Se perto, - que é que eu sei! essa agonia
De viver fraco, o peito extravasado
O mel correndo; essa incapacidade
De me sentir mais eu, Orfeu; tudo isso
Que é bem capaz de confundir o espírito
De um homem - nada disso tem importância
Quando tu chegas com essa charla antiga
Esse contentamento, essa harmonia
Esse corpo! e me dizes essas coisas
Que me dão essa fôrça, essa coragem
Esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice
Meu verso, meu silêncio, minha música!
Nunca fujas de mim! sem ti sou nada
Sou coisa sem razão, jogada, sou
Pedra rolada. Orfeu menos Eurídice...
Coisa incompreensível! A existência
Sem ti é como olhar para um relógio
Só com o ponteiro dos minutos. Tu
És a hora, és o que dá sentido
E direção ao tempo, minha amiga
Mais querida! Qual mãe, qual pai, qual nada!
A beleza da vida és tu, amada
Milhões amada! Ah! criatura! quem
Poderia pensar que Orfeu: Orfeu
Cujo violão é a vida da cidade
E cuja fala, como o vento à flor
Despetala as mulheres - que êle, Orfeu
Ficasse assim rendido aos teus encantos!
Mulata, pele escura, dente branco
Vai teu caminho que eu vou te seguindo
No pensamento e aqui me deixo rente
Quando voltares, pela lua cheia
Para os braços sem fim do teu amigo!
Vai tua vida, pássaro contente
Vai tua vida que eu estarei contigo!
Borrões
Ao terminar o trecho da tragédia Carioca "Orfeu da Conceição", de Vinicius de Moraes, Eduardo emudece. Seu corpo treme. Os dentes mordem a si próprios. As lágrimas nascem febris e escorrem mornas pelo suor frio de seu rosto. Os pulmões pulsam e a respiração fica ofegante. Soluços e arrepios. Arritmia, taquicardia, formigamento, batedeira, morredeira... Eduardo sente tudo isso e mais um pouco. As mãos soltam as muletas e seu corpo desaba. Desaba num choro contínuo. Angustiante, inquietante, vibrante.
A calça caqui de brim e a camiseta pólo mancham o palco. Mancham o palco como uma mancha de sangue, uma mancha de tempo, uma mancha de gente. E então ele se faz pornográfico em gestos nus. E então ele se faz bêbado de uma sede infinita. Pornográfico, Eduardo bebe daquele palco. Bêbado, Eduardo transa com aquele palco.
Para os que não leram Vinícius, aquilo poderia ser entendido como a continuação da peça. Mas não o era. Aquela era a adaptação de Eduardo Moreira, ou simplesmente Duda, o artista esquecido pela história, pelo tempo e por si próprio.
Corpo banhado
Depois de um portão de ferro retorcido, um caminho de terra batida. Meus sapatos negros, depois de solarem pedras encardidas, chegam a uma porta de madeira pintada de branco. No alto do pé direito da casa, uma plaquinha: Casa 21. Ceilândia Sul. Dois toques naquela madeira morta e a porta desvenda um corpo banhado de branco. Cabelos brancos. Sorriso branco Chapéu de abas brancas. Lapelas brancas. Botões brancos. Mangas brancas. Linho branco, que Belchior cantaria que ?mês passado lá no campo ainda era flor?. Aquele filme preto e branco só é quebrado por um lenço vermelho. Como uma sangria, o lenço pende na lapela do paletó.
Para me cumprimentar, a bengala troca de mão.
Estou bem assim? Mesmo aos oitenta anos, a vaidade ainda não tinha abandonado aquele malandro sambista. A bengala, de Jequitibá, a árvore nobre do samba, indicava o caminho aos sapatos brancos de seu Zinho e aos meus sapatos embebidos de poeira. Poeira esbranquiçada. E entre os passos, surge uma televisão Phillips de 20 polegadas, um sofá coberto por colchas vermelhas, um jarro de barro recheado com espadas de São Jorge e uma bandeira da Estácio de Sá dependurada entre uma trinca e outra de uma parede também vestida de branco.
Aquele escudo ali eu ganhei das mãos de uma porta-bandeira. Noemia. Saudades da Noêmia. Eu tinha seis anos de idade. Lembro que fui para rua e sambei e sambei e sambei. No final, toda a comunidade se abraçou. Veio a Noêmia, moça distinta, negra, mas não qualquer negra. Uma negra que alumiava os olhos da gente. Ela chegava e a bateria parava para reverenciá-la. De repente, a porta-bandeira se despiu de seu estandarte e o passou para as minhas mãos.
Naquele momento, minhas mãos foram abençoadas. Não sei por qual espécie de Deus, mas foram. Senti um calor como nunca senti novamente. Nem quando segurei nas mãos da minha mulher, minha Zezinha, pela primeira vez. Aquele momento foi mágico.
Zinho olha para o estandarte como se tivesse acabado de recebê-lo. As recordações perturbam seu corpo. A voz embarga. Os olhos mareiam. A respiração fica mais longa e dá espaço para alguns quase-suspiros. Quase porque são interrompidos por uma tosse seca, que já acompanha o sambista há três anos. Mas, como por uma ironia dos deuses, a tosse sumia toda vez que Zinho Preto cantava.
Sem cerimônias, pega um cavaquinho que repousava ao seu lado. Dedilha suas tiras de aço, enche o peito de lembranças, sorri seus dentes brancos e solta o vozeirão tratado com doses de cachaça, mel e limão.
Paixão ingrata
Ingrata paixão
Maltrata este coração
De lata
Eu te dou carinho e flor
Te dou um ninho de amor
Te dou até a lua de prata
Pra enfeitar sua boca mulata
Mas pelo amor de Deus
Não mata
Esse menino
Colocando em teu destino
Um triste adeus.
Eu fiz essa musiquinha depois que Mariazinha foi embora do Estácio com outro pro Morro da Mangueira. Foi minha primeira paixão. Ela subia com uma lata d?água na cabeça rebolando seu corpo de pecado. Ela tinha uns vinte anos a mais que eu. Quando me apaixonei eu tinha doze e ela mais de trinta. Embora eu a amasse, Mariazinha nunca foi minha. Nunca. Mas me deu a minha primeira música. Quando ela foi embora nos braços de outro chorei e chorei e chorei. Daquele dia em diante, jurei que só choraria nas cordas do cavaquinho. Além de me trair, traiu o Estácio. A desgraçada foi rebolar no coração de um malandro verde-rosa. Mas Mariazinha foi só a primeira. Ao longo dos anos muita gente traiu o Estácio. Aquele Estácio hoje só existe aqui ó.... (Zinho aponta para o coração) e abaixa os olhos, úmidos. Honrando sua promessa, as lágrimas só escorrem das cordas do cavaquinho.
Estácio,
Velho Estácio
Onde está teu samba
Sua gente bamba
Chora
Porque seu passado de glória
Está indo embora
Estácio,
Pode me pintar de vermelho e branco
Porque vou te amar pela vida inteira
O tempo pode fazer tempestade
Trazer saudade
A cidade pode acabar
Mas entre os escombros
Com tua bandeira
Nos ombros
Vou passar
Vou passar contigo
Você é meu doce abrigo
Eu te defendo
E me rendo
A tua voz
Sou teu guerreiro
E teu prisioneiro
Guarde em ti a minha vida
Porque entre nós
Meu velho
Não há espaço para a despedida.
Parte perdida
Rio de Janeiro. 12 de agosto de 1962. Os acordes de João Gilberto haviam ultrapassado e muito a praia de Ipanema. O Redentor continuava com os braços abertos sobre a Guanabara e uma onda tropicalista começava a colorir um Rio saudoso de ser capital. Eduardo, ator desde os 12 anos de idade, estava no elenco de uma montagem de Nelson Rodrigues. Seus cabelos longos e seu físico, delineado por braçadas matutinas no Arpoador, provocavam os desejos mais secretos nas meninas da geração Leila Diniz.
Em um fim de tarde de verão, Eduardo estava ao volante ao lado de sua mulher Alice e de seu filho Otelo. Homenagem ao ator e ao personagem de Shakspeare. Pelas ondas do rádio, João Gilberto cantava ?Dia de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar?. E antes que o Barquinho terminasse de deslizar no violão do pai da bossa-nova, um outro acorde, nada melódico, invade os ouvidos daquela família carioca. Um carro em alta velocidade surge do vazio e tira a tranqüilidade daquela tarde carioca.
Eduardo só acordou no hospital, dois dias e três noites depois, com um braço quebrado, uma lesão na coluna (que o deixou na cadeira de rodas), e a notícia de que sua mulher e seu filho haviam sido enterrados na tarde anterior. Lembra que o médico deu a notícia como se lesse um relatório. Dr. Ribeiro. Nenhuma emoção em seu corpo. A frieza do médico impediu qualquer reação imediata. Não gritou, não chorou, não quebrou nada. Apenas se calou.
Calou-se diante da visita de seus pais, Leonel e Nice, que não sabiam o que dizer. Calou-se diante da visita de seus sogros, Coronel Batista e Nininha, como era carinhosamente chamada. Eduardo se calou em dor, em culpas, em arrependimentos. Poderia ter evitado o acidente? Por que ele não viu o carro? Quantas coisas ele ainda sonhava em fazer e não poderiam mais ser feitas? Nada mais podia ser feito para ele, para Alice e para Otelo. Não da maneira como havia sonhado.
Nem no pior dos roteiros ele havia encenado drama parecido. E, de fato, não sabia encenar. Passou oito meses internando. Três meses e quatorze dias sem dizer uma só palavra. Dezenove dias sem comer nada. E quarenta e quatro anos sem subir em um palco.
Fez dezenas de tratamentos psicológicos. Bebeu, fumou, freqüentou as mais diversas religiões, desde o espiritismo até a o budismo, passando pela igreja evangélica, pelos terreiros de umbanda, pelas linhas dos orixás, mas em momento algum encontrou paz interior. A vida de Duda acabou aos 23 anos. Começou a ocupar sua cabeça com temas que o afastavam do passado. Começou a incorporar um outro Eduardo. Começou a estudar leis. Vestir terno e gravata. Comprou até óculos, sem necessidade física alguma de usá-los. Afastou-se dos seus amigos, da sua família, do seu mundo.
Passou em um concurso para o Poder Judiciário. Começou a trabalhar em um tribunal no Rio de Janeiro, mas pediu para ser transferido para Brasília. O Rio doía demais. Não trouxe nada para a capital federal, exceto algumas peças de roupa e dezenas de fotos. Ao longo dos anos, a saudade lhe trouxe versos. Versos que não rimam.
Anos a fio
Por muitos anos
Sobrevivi
Me alimentava de fotos
Eu era a parte perdida
De uma fotografia
Uma fotografia que não encaixava mais no contexto
Uma fotografia que queria voltar para o porta-retrato
E que uma voz me falava
Vá viver
Vá viver
Deixei de tentar a morte e decidi viver
Mas vivi ao meu modo
A minha maneira
Para contragosto da vida.
Gravidade
O táxi pára em frente ao Le Cirque, ao lado do Eixo Monumental Norte, em Brasília. Aquelas lonas amarelas e azuis estavam prestes a acolher mais uma entre 200 mil pessoas que passaram por ali só nessa última temporada. Mas Cidinha não era apenas um número somado na bilheteria, era a soma de um passado.
O contorcionismo dos ponteiros do relógio indicava três horas da tarde. Não era horário de espetáculo. Só alguns circenses caminhando ao redor do palco central. Ao entrar no circo, o cheiro da serragem emociona aquela mulher que nasceu ao meio de palhaços, mágicos, malabaristas. As lágrimas caminham pelo rosto. Há décadas ela não entrava em um circo. Motivo: medo. Medo da sua reação. Medo da sua emoção. Medo de uma Bárbara, que ela tanto tentou esquecer, voltasse.
Quarenta anos depois aquele era um momento só seu. Não adianta gestos ou palavras. Ela, nua com seus sentimentos, no meio do picadeiro. E quando ela começa a se recompor, um casal de malabaristas, em feitio de presente surpresa, voa em um céu sem estrelas. Em seu universo particular ela se reencontra com Bárbara e Lúcio. E as lágrimas se transformam em soluços que se transformam em sorrisos. Os olhos parados, vidrados, tomados. Sem forças seu corpo se entrega ao chão e seus olhos aplaudem. Mais do que um show particular, um show íntimo, praticamente visceral.
O show religa o cordão umbilical de Cidinha com o circo. Aliás, eu não estou mais diante de Cidinha. Quem está ali é Bárbara. Para o meu espanto, ela quer voar. O desejo supera a preocupação e seu rosto reflete em um espelho emoldurado por pequenas luzes. Perto de seu reflexo, vários potes, caixas, vidros com as mais diversas maquiagens. Bárbara começa a se maquiar. As mãos que pintam seu rosto ganham vida própria. Anos e anos depois ela tem um rosto novamente.
A magia inunda o ambiente. Não há como não se deixar levar pelas asas do sentimento. Eu, depois de muitos anos, volto a uma cadeira de circo. O espetáculo vai começar. O apresentador é tirado de seu sono vespertino e ainda com cabelo amassado, voz sonolenta e sandálias de dedo nos pés desempenha o seu papel. Senhoras e senhores, com vocês o maior espetáculo da terra: os malabaristas do Le Cirque. Guto e Bárbara. Os ouvidos de Bárbara voltam a ouvir o som dos aplausos. Mais tarde ela me confessaria que os aplausos cantam como pássaros em seus ouvidos. E as minhas mãos se juntam às mãos dos circenses para uma salva de palmas para a coragem daquela mulher.
Vestida com um maio de lantejoulas roxas, Bárbara sobe as escadas do picadeiro e voa. Seu corpo como um pêndulo. De repente, ela pula para as mãos de Guto e não as alcança. Bárbara cai em queda livre. Seu corpo à mercê dos 9,8 m/s² da gravidade. Silêncio. O corpo de Bárbara cai, mas a felicidade continua em seu rosto. Ao final da queda, seu corpo encontra a rede de proteção. Faltam palavras, sobram sorrisos. O rosto borrado pela maquiagem denuncia que a emoção não coube em si.
Contos de bruxa
Uma escada estreita de degraus estreitos que dão para uma porta estreita e a um aperto de mão mais estreito ainda. Cabelos desarrumados. Óculos escuros. Bermuda nos joelhos magros. Camiseta com estampas e furos. Sandália de borracha. Barba por fazer e um cigarro na boca.
O sofá coberto por uma colcha suscitava alguns espirros. Um gato negro, como aqueles que vagam pelos contos de bruxa, circulava pelo apartamento de quarto e sala, por entre móveis escuros polvilhados de poeira. Em um ambiente onde as janelas viviam fechadas para o sol, o gato preto só podia se chamar gato preto.
Achei esse gato na rua há uns meses. No primeiro dia, deixei-o lá. No segundo, começou a me atormentar. E no terceiro, achei-o parecido comigo. Triste, sombrio, abandonado. Então o trouxe para cá. Nem eu falo com ele nem ele fala comigo, somos duas solidões caminhando sem se encontrar.
Em meio a esse cenário, Eduardo convive com seus dramas. Com promoções e gratificações, seu salário chega a seis mil reais por mês. Tem um Vectra 2002, mora de aluguel em um apartamento de um quarto no Guará e compra dezenas de pacotes de macarrão instantâneo uma vez por mês. Longe dos palcos, sua vida é interpretada sem maiores dificuldades ou emoções. Interpretada em um mesmo roteiro. Afinal, ele fazia questão de encenar a mesma peça todos os dias.
O relógio desperta pontualmente às 6h37. Sai da cama às 6h40. Vai direto para um banho frio. Segue para a cozinha, dá leite para o gato preto e esquenta um pouco de leite para comer com cereais. Liga a televisão, acompanha as últimas notícias do Bom-Dia DF e as primeiras do Bom-Dia Brasil. Troca à água do gato, despeja um pouco de ração. Veste a roupa de trabalho. Escolhe uma entre as gravatas que já ficam com laços prontos dentro do guarda-roupa. Acende um cigarro, o primeiro do dia, e desce para o carro. Gira a chave e toca rumo ao Plano Piloto. Almoça às 12h no restaurante do próprio tribunal. Arroz, feijão e bife acebolado. Às 18h, pega o carro e volta para casa. Chega e cai na cama. Assiste televisão ou, navega pelo notebook ou mergulha nas ondas de um pequeno radinho à pilha. Independente da opção escolhida, ele a faz na cama.
Se Jobim composse a sua vida, certamente seria uma canção de uma nota só.
Imagine
Noite alta. Último domingo de novembro de 1971. Os anos de chumbo do General Emílio Garrastazu Médici. John Lennon canta Imagine. Emerson Fittipaldi começa a se destacar nas pistas da Fórmula-1. E Bárbara desce do trapézio aplaudidíssima completando mais um dia da turnê do Circo de Paris pelo interior de Goiás.
Mas não é um dia qualquer. Dentre aqueles aplausos, um aplauso soa com segundas intenções. Antônio Gusmão, dono de três mil cabeças de gado nelore, aplaude. Mas não aplaude o espetáculo daquela trapezista. Aplaude as curvas do seu corpo. Aplaude seus lábios longos. Aplaude seu sexo ainda criança. Aplaude em pé. E seus aplausos logo foram entendidos pelo pai da moça.
Poucas semanas depois o Circo de Paris ganha uma noiva e perde uma trapezista. Bárbara se casa com o fazendeiro. Bárbara fica e o Circo de Paris segue pelo interior do Brasil com Lúcio e um trapézio órfão. Não pude opinar. Não pude fugir. Não pude pensar. Aliás, só pensava em deixar o Lúcio. Foi a pior traição da minha vida. Em troca de alguns cruzeiros, meu pai me fez perder o meu trapézio, o meu Lúcio, o meu encanto. Bárbara cedeu e Cidinha ganhou força.
Meus dias na fazenda eram dias comuns. O seu Gusmão me cobriu de jóias, mas nenhuma delas me trouxe o sabor de um salto. Seu Gusmão tinha idade para ser o seu pai. Homem marcado pelo sol. Andava sempre de botina preta e chapéu branco. Era conhecido pelo tamanho de seu rebanho e pelo rótulo de mulherengo. Cidinha não foi e nem fez questão de ser sua única mulher. Embora tivesse outras namoradas, seu Gusmão a tratava com mordomias que jamais teria no circo. Uma vida de luxo, mas sem o menor encanto.
Oito anos depois da troca de alianças, Cidinha fica viúva. Antônio Gusmão morre em um acidente de carro voltando de Uberaba. Ela herda a fazenda. Ou melhor, parte dela. Teve que dividir as terras, as casas, os bois com os três filhos do primeiro casamento de Gusmão. E a sua parte, bem inferior às demais, ela quis em dinheiro. Durante alguns anos, Cidinha andou o Brasil à procura do Circo de Paris. Para seu desespero, quanto mais andava, mais se distanciava do circo. A cada passo adiante, o passado ficava dois passos para trás. Teve algumas notícias vagas sobre o paradeiro do circo. Notícias vagas que nunca levaram-na ao Circo de Paris. Seu pai, sua mãe, Lúcio, os amigos, os colegas transformaram-se em lembranças.
Depois de rodar todo o Brasil seu dinheiro acabou. Sua última parada: Brasília. Mas quando colocou seus pés na capital federal não havia nenhum circo ao longo dos quatro pontos cardeais traçados por Lucio Costa.
Não havia mais gado, mais marido, mais circo e Cidinha tinha que sobreviver. As mãos que já haviam se enchido de anéis e de trapézios tinham que conduzir vassouras, panos de prato, esponjas, ferros de passar. Sem perceber, Cidinha jogava mais algumas pás de cal sobre Bárbara.
Carne viva
Hoje a ARUC recebe uma visita especial. Enquanto um dos diretores da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC) faz as honras da casa o povo do samba tomava a quadra da maior vencedora do carnaval candango. Quadra cheia assim com a lua que se dependurava branca num céu negro. No palco, Zinho Preto. E o seu vermelho e branco parecia tão à vontade no meio de todo aquele azul e branco.
O sorriso ainda mais branco ainda mais largo ainda mais incisivo no rosto do velho sambista. Não era o morro do Estácio, mas era uma casa de samba. Há quatro anos em Brasília aquele sambista ?das antigas? ainda não havia pisado naquele palco. Desde 1973 não vivia aquele calor. E, embora ninguém ali soubesse sua história, suas lembranças e seus sonhos, ou sequer haviam ouvido o seu nome, Zinho Preto é recebido com batucada.
Depois da saudação feita por um diretor da velha guarda, que ficou conhecendo há poucos minutos uma parte da história de seu Zinho, a bateria da escola se encarrega de conduzir aquele mestre do cavaquinho ao microfone. Os passos lentos querem largar aquela bengala e correr como Estaciozinho corria. Corria da roda de samba pro seu barraco e entrava pela janela só para não acordar a preocupação da mãe e a brabeza do pai. Mas para quem estava distante de uma escola de samba há mais de trinta anos, aquela caminhada era fácil demais para ser vencida pelas pernas de seu Zinho.
Emoções em carne viva. Seu Zinho caminhava em sua elegância peculiar enquanto surdos, cavaquinhos, reco-recos, tamborins, pandeiros ditavam um ritmo que nem o tempo era capaz de entender. Era como se Ismael e outros bambas do Estácio estivessem ali. Quantos sabores e perfumes do passado entonteceram os sentidos de Zinho Preto durante aquela caminhada de poucos metros? Quantos rostos ele viu pelo caminho? Quantos sonhos foram novamente sonhados?
Eu o conhecia pouco. Mas sabia que a sua promessa, de só chorar no cavaquinho, é quase quebrada. Quando velho sambista chega ao microfone a bateria faz a famosa paradinha. Frações de segundo de um silêncio acalorado. Ele abre o sorriso e ela continua por mais alguns segundos. A tosse, agravada pelo nervosismo, não o impede de se explicar em uma só frase. Eu não esperava viver isso de novo.
A bengala fica de lado, o peito estufa e o sorriso branco toma conta daquele pássaro negro.
Teu corpo
Demorei
Mas voltei pros teus braços
Eu voltei
E só voltei porque te amo
Passaram-se tantos passos
Mas nosso amor não passou
Ficou
Cravado nas cordas
Do meu coração
Ficou
Guardado nas dobras
Da minha emoção
Ficou
Ficou
O amor ficou em meu sopro
E eu fiquei
No teu corpo
Demorei
Mas voltei
Pode gritar
Pode sorrir
Pode chorar
Pode pedir
Perdão
Porque eu voltei
Acredite ou não
Encontros e despedidas
Agora eu sei quem realmente sou.
É como se eu nascesse de novo.
Nunca mais vou me perder de mim.
Três vidas que convergem para um mesmo ponto: encontros e despedidas. Seja a música cantada por Milton Nascimento onde se chora a cada estação, seja os encontros e as despedidas de si próprio. A bengala de Antônio Aragão, a vassoura de piaçava de Cidinha e as muletas de Eduardo são o avesso do lenço vermelho de Zinho Preto, do maio de lantejoulas de Bárbara e dos pés descalços de Dado. A realidade e a magia lado a lado. Basta um estímulo. Um empurrão. Um estalo. Basta tão pouco para despertar heróis, mitos, sonhos, glórias, sorrisos que há tempos não sorriam. Personagens reais que a realidade, em suas agruras, transforma em uma ficção barata. Zinho Preto pode nunca mais cantar diante de uma bateria de escola de samba. Bárbara pode nunca mais voar sob as lonas de um circo. Nelson pode nunca mais pisar em um tablado. Mas as chamas desses reencontros vão arder em seus peitos trazendo-lhes a certeza de que eles existem de fato. Em um tempo onde se nega o próprio eu, por razões mais diversas, três personagens cotidianos reafirmam suas identidades. Identidades que não tinham a pretensão de serem secretas, apenas ficaram, ao longo do tempo, anônimas.
Agora eu sei quem realmente sou. É como se eu nascesse de novo. Nunca mais vou me perder de mim. Três frases, três confissões, três declarações. Cada uma, dita de um jeito. Cada uma, dita com uma emoção. Cada uma, falando mais alto que a outra. Cada uma, dita por uma das três personagens centrais deste texto. Quem disse cada uma delas não importa. O que importa é que eles existem em um outro tempo.
Tarde chuvosa de domingo. Eduardo cruza as pernas em seu sofá e com uma das mãos acaricia o gato preto e com a outra incita as pedras do isqueiro, que se esfregam sem maiores pudores. Dá três tragadas, repousa o cigarro entre os dedos, traz o gato preto para o seu colo e entre fumaças e suspiros sorri de canto de boca e se revela em uma frase sem antes nem depois: Sabe, o que me intriga é saber que existe um mundo perdido entre o passado e o presente.
Comentários
Nenhum comentário.
Escreva um comentário
Participe de um diálogo comigo e com outros leitores. Não faça comentários que não tenham relação com este texto ou que contenha conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. Eu me resguardo no direito de remover comentários que não respeitem isto.
Agradeço sua participação e colaboração.