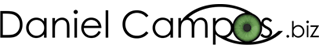25/10/2011 - Adélia, simplesmente Adélia
Como uma ave caída do ninho, imobilizada sobre uma cama de UTI, desfeita pelos remédios e pelas quedas, Adélia tentava reconstruir sua vida, juntando pedaços, colando cacos, encaixando peças em um grande quebra-cabeça chamado destino. Com muitos quilos e cores a menos, extremamente frágil e pálida, tentava se reerguer por meio de lembranças e esperanças. E como era personagem da vida real e não de um conto de fadas, o número de lembranças, naquele desfecho de sua história, era muito maior do que o de esperanças.
Tinha direito a pouco menos de duas horas de visitas por dias. As outras vinte e duas horas de seu dia eram vividas em companhia de médicos e enfermeiros sem nome e dela própria. E era justamente nela que se alegrava ou, ao menos, tentava se alegrar. A mulher que sempre foi feita de sorrisos tímidos só contava com ela para sorrir. Entre tantos rostos desconhecidos, não havia espelho para ver o seu. Melhor assim, talvez também não se reconhecesse mais.
Não tinha mais o controle dos braços, muito menos das mãos que por anos e anos já davam sinais de dormência. Mesmo se quisesse, não conseguiria escrever suas memórias em cadernos ou diários. Suas memórias tinham de ser desenhadas no ar com seu português ruim. Mas os erros gramaticais em nada interferiam na emoção que sempre a tomou. Adélia sempre viveu à flor da pele. E era sua vida, em carne viva, que ela queria deixar registrada como uma espécie de biografia-testamento.
Embora internada em um ambiente repleto de enfermos, um em estado mais grave que o outro, estava sozinha. As camas eram separadas por meio de divisórias. Dali, da sua baia, não conseguia enxergar vizinho algum. Além do sofrimento não poder ser compartilhado, não havia ninguém que ela pudesse olhar nos olhos para contar seus feitos ou o que deixou de fazer. Seja o que fosse que dissesse, seria um monólogo sem plateia, às escuras. Um vôo cego, mas necessário.
O pouco tempo que seus familiares e amigos tinham pra visitá-la não era seu. Era deles. Ninguém queria saber de suas histórias antigas. Queriam saber apenas como passou a última noite, se comeu ou não, qual o resultado do último boletim médico, onde estava com dor. Queriam o seu tempo presente, quando ela, por não ter mais futuro, queria oferecer justamente o melhor de seu passado.
Era como se ela estivesse sozinha na Caputera, o povoado rural onde nasceu na pequena Mogi-Mirim, no interior de São Paulo. Descendente de italianos, Adélia era Saccini Coser. Seu pai falava arrastado, com sotaque carregado. Adorava conversar e beber umas e outras. Higino Coser. Um homem que gostava de dar balas e fazer cócegas nos netos e que morreu do coração muito cedo. Pouco se sabe sobre ele. Aliás, pouco se sabe sobre ela.
Adélia sempre foi condenada ao silêncio. As histórias que importavam aos ouvidos alheios eram as do marido, recheadas de assombrações, atos heróicos e poéticos. As dela, que falavam sobre uma mulher comum, sempre foram deixadas de lado. Ainda bem que durante aqueles dias em repouso absoluto e forçado, ela pode finalmente se reencontrar com as suas duas vidas, a que viveu e a que perdeu, ou melhor, a que lhe fizeram perder. A mulher que sempre teve muitos medos e receios se encheu de coragem naqueles últimos dias para mergulhar fundo dentro de si.
De quantas coisas aquela senhora de cabelos ralhos em função das sessões de quimioterapia teve que abrir mão? Aquele verde da UTI era o tom das suas lembranças do campo, da Caputera, da plantação de abacates, das verduras que lidava na cozinha, das plantas que gostava de cuidar, dos olhos do marido que, depois de 51 anos de casamento, tinha de dormir em outra cama. Para sempre.
Adélia nasceu das mãos de uma parteira que não se lembra o nome ou a feição. Não era a filha mais nova, tampouco a mais velha. Não era a mais querida, nem a mais abastada. Era uma filha comum, uma irmã comum. Comum foi uma palavra que sempre lhe perseguiu, forjando-a pela vida afora. No dicionário, “comum” é algo que não tem grande valor ou importância. Agora era o momento de se libertar desse rótulo.
Geraldo, Hélio, Adélia e Madalena. Esses foram os filhos de dona Maria que chegaram à idade adulta. Adélia, do seu jeito, amou cada um deles de um jeito diferente e com tal intensidade que, em muitas vezes, se esqueceu de amar a si própria. Sempre, desde muito nova, viveu para os outros. Tanto que, naqueles últimos dias, o fato de precisar viver unicamente para si a incomodava.
Lembrava das bonecas de Lena, das reinações de Hélio e Geraldo, mas não conseguia se lembrar das suas brincadeiras da infância. Recordava apenas que tinha de limpar a casa, de subir em uma lata para alcançar o fogão e de cuidar da irmã caçula. Os irmãos ajudavam o pai no roçado. Já Lena, era a caçula, a mais protegida e mimada. De quanta proteção e de quantos mimos Adélia sentia falta naquela cama solitária?
O que o pai tinha de doce a mãe tinha de rude. Irmã de outra Maria, maior que ela, ficou conhecida como Maria Pequena. Uma mulher que no final da vida pesava mais de cem quilos, que utilizava o dinheiro da aposentadoria para comprar fumo de rolo e remédios e que andava de bengala ou com o apoio de uma vassoura. Foi também de vassoura que Adélia apanhou na juventude. Foi educada para obedecer. Ah! Naquela cama pensava o quanto seria diferente se ela tivesse sido uma menina desobediente...
Um romance levou Lena para longe. O contato entre as duas ficou escasso, mas seu câncer as reaproximou. A irmã, a sobrinha e o sobrinho-neto tentavam em vão recuperar o tempo perdido. Já era tarde. Muita coisa havia ficado para trás sem conserto. Naquela última semana que estava internada, visitas não lhe faltavam. Embora ela achasse falta de um ou de outro. Em especial irmão algum apareceu para vê-la. Lena estava longe, Geraldo mais longe ainda e Hélio não entrava em hospital. No entanto, sua esposa, Floripes, aparecia sempre.
E pensar que dias atrás, o mais doce de seus irmãos, Hélio, cópia do gênio do pai, estava sempre a buscar notícias dela e um bocadinho de prosa no portão de sua casa. Adélia gostava de companhia, mas se aborrecia por não ter mais condições de fazer café ou um bom-bocado para recebê-las. Embora estivesse naquela cama há cinco, seis, sete dias, há meses estava impossibilitada de fazer muitas coisas. Ali, naqueles dias terminais, foi obrigada a se afastar de tudo e de todos. E isso lhe doía mais do que qualquer dor física.
E Geraldo? Geraldo também a queria muito bem. Mas não apareceu. Por quê? Ela o esperava todo dia, mas depois se lembrava de que um câncer nos pulmões havia o levado para mais longe. Se eles conversaram ao longo daquela semana, isso ninguém sabia. E foi de complicação no pulmão e câncer generalizado que Maria Pequena havia morrido. Higino morreu de infarto.
Enquanto Hélio e Adélia tinham ossos grandes como a mãe, Lena e Geraldo eram mais franzinos como o pai. Mas Adélia, que nos últimos meses teve um começo de pneumonia, uma suspeita de dengue, um câncer no intestino e um sopro no coração não estava naquela cama por nenhum desses motivos. Também não estava ali por conta de suas enxaquecas e de seus problemas de fígado. Estava ali porque havia tomado uma queda. Por ironia do destino, uma queda besta. Uma bobagem perto da lesão causada. Nem Geraldo nem Hélio nem Lena nem Higino nem Maria Grande nem Maria Pequena estavam lá para ampará-la.
Esquentava água para coar um café quando veio uma vertigem. Tudo escureceu, rodou, não viu mais nada. O marido ainda estava dormindo. Os filhos estavam cada qual em suas casas cuidando de suas vidas. Ela não tinha ajudante. Era ela e Deus e, naquele momento, o Todo-Poderoso deixou propositalmente que ela caísse. Era preciso deixá-la cair para que pudesse segurá-la nos braços depois. No chão, gritou por socorro. E seus gritos se confundiram aos gritos do marido que a carregou nos braços pela última vez.
Coincidentemente, Adélia parecia predestinada às quedas. Tinha labirintite e várias dormências estranhas pelo corpo. Às vésperas do Natal passado caiu e por pouco não quebrou o nariz. Ficou com o olho inchado, com um corte no queixo. Quantas vezes ela foi ao chão estendendo roupa no quintal? Em uma delas o ferro que sustentava o varal caiu em sua testa. Corte e pontos. Caia dentro de casa ou na rua, tanto que vivia com as palmas das mãos esfoladas.
Até mesmo da cama já chegou a cair. Pena que não podia cair daquela maca. Estava com um ferro lhe prendendo o pescoço. Não tinha força ou movimento suficientes para cair. Então, restava-lhe apenas a pior das quedas. Cair em si. Uma queda livre, que parecia não ter fim. Não havia onde se agarrar ou como parar. Também não sabia o que iria encontrar ao final daquele desfiladeiro. Sabia apenas que seu destino era, ao menos por agora, cair, cair, cair...
Quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Lembrando desse antigo sermão que escutou por algumas dezenas de vezes ao longo de sua vida religiosa, caia para um dia ser levantada. De uma forma ou de outra sabia que não iria mais sair dali. Aos 71 anos não voltaria mais até a casa número 71 da Rua São Miguel, na qual morou por mais de quarenta anos.
Sua vida de quedas chegaria ao fim bem antes dos 86 anos da mãe, bem depois dos 60 anos do pai. Chegaria ao fim 71 anos depois de seu início. Setenta e um anos caminhando sem parar. Uma guerreira que trazia em seu corpo (exterior e interior) as marcas de tantas batalhas. Quanto suor, quantas lágrimas, quantos sonhos deixou pelo caminho? Difícil saber...
Adélia testemunhou a chegada do homem à lua, o nascimento e a separação dos Beatles, a descoberta da cura de um sem número de doenças. Viu o ferro à brasa ser substituído pelo ferro a vapor, o fogão à lenha dar lugar ao fogão a gás, o surgimento da televisão, do forno microondas, do celular. Acompanhou por tantas vezes o poder mudando de mãos, o dinheiro mudando de nome e a dor mudando de endereço. Não foi só o mundo ao seu redor que mudou, ela também teve suas mudanças.
A mulher magra que parecia atriz de cinema deu lugar a uns quilos a mais que ela tentava, a todo custo, perder. Dietas a base de sopa de cebola e de chás faziam parte de sua vida. A idade também lhe trouxe uma série de manchas nos braços e nas pernas. Usava óculos, pintava o cabelo, que já teve um leque de cores. Mudou de medos, de desejos e de propósitos. De amor nunca mudou. Até os últimos dias era apaixonada pelo marido. Sentia ciúmes e saudade. Pena que ali não era o cenário ideal para ganhar um último beijo.
Entre as mudanças, também mudou de casa. Depois da Caputera foi para a Rua São Pedro. Uma casa boa. Seu pai vendeu parte do sítio em busca de uma nova vida. Adélia sempre gostou do movimento, dos costumes, da vida da cidade. Agora, naquele quarto, estava bem perto das vitrines das lojas que gostava de olhar, porém, onde quase nunca ela pode comprar roupas, sapatos, bolsas. O que vestia geralmente eram roupas que já foram de alguém ou que ela ganhou de uma filha costureira ou que ela comprava em liquidações. Agora, vestindo aquela camisola do hospital, tinha saudade dos seus tailleurs, das suas calças de moletom, das suas bermudas, dos seus chinelos e, até mesmo, do seu avental.
Estava perto dos restaurantes que lhe enchiam a boca d'água, mas que contava nos dedos às vezes que almoçou ou jantou em algum deles. Estava perto da sua paróquia, do brechó da igreja onde trabalhava voluntariamente, da escola que frequentou por alguns anos. Tinha pouco estudo, mas chegou a ir à escola, a ter cadernos, lápis, borracha, essas coisas. Estudo suficiente para fazer alguns versinhos para um menino na juventude, para escrever receitas num caderno, para anotar telefones, para ler as caixas de remédio, ou revistas com o resumo de suas novelas ou ainda a Bíblia Sagrada. Sua vida, se conhecida, daria uma novela. Nunca ninguém descobriu o que ela queria ser quando crescesse. Talvez nem ela. Parou de estudar cedo demais. Precisava ajudar em casa e, para sua mãe analfabeta, saber ler algumas frases e rabiscar o nome já estava de bom tamanho.
A vida nunca lhe foi farta. Dona Maria também nunca foi fácil. Jogava talheres na pia e caçarolas ao chão fazendo um barulhão se Adélia não entrasse em casa antes das dez horas da noite. Ficava na janela vigiando seu amor com Líbio, um jovem que arrancava suspiros de toda e qualquer menina. Dez entre dez meninas queriam namorá-lo. Mas foi Adélia, com aquele jeito simples, que o levou para o altar.
Enquanto o amor de Lena o levou para uma cidade estranha, os de Geraldo e Hélio os mantiveram na Rua São Pedro, o de Adélia levou-a de volta ao sítio. Ao sítio Boa Vista. Liberato tocava o sítio que um dia foi de seu pai ao lado de Hélio, que se casou com Floripes, irmã de Liberato. Tudo acabou ficando em família. Aliás, Adélia sempre teve vocação para unir e se unir aos outros.
No entanto, o galã de novelas que se arrumava todo, que tomava banho de perfume e dançava feito um lorde, também tinha seu lado real. Bebia, tinha fama de namorador, arrumava confusão, criava desavença com os sogros (a ponto de querer colocar a dona Maria num balão), quebrava as coisas da casa, causava-lhe medo. Não sabe mensurar quanto rezou para que ele largasse a bebida. Pensou em deixá-lo, mas o amor sempre falou mais alto e ela acabou ficando.
Adélia tinha que cuidar da casa, do terreiro, do marido, dos filhos. Foram três. Duas meninas e um menino. À cidade só ia uma vez ou outra, numa carrocinha puxada geralmente por uma égua chamada Faísca. Aliás, só ia ao lado de Líbio. Sempre foi uma mulher submissa, que aguardava pacientemente sua vez. Mas como essa vez não chegava nunca, um dia gritou, botou o pé na parede e exigiu voltar pra cidade. Já ficava boa parte da semana longe da filha mais velha porque ela precisava freqüentar a escola. Não iria se separar dos demais.
Então, mudou-se para a Rua São Miguel, número 71. Uma casa nova, espaçosa e confortável, que Líbio ajudou a deixar do jeito que queriam. Foi ali que começou vida nova. Ou melhor, que pensou que começaria vida nova. Continuou cuidando da casa, dos filhos e do marido, que continuava indo e voltando do sítio todo santo dia. Mas pelo menos ali poderia ver o movimento da rua, dançar bailes, ver os parentes. Mas como tudo tem um lado ruim, acabou aproximando ainda mais Líbio do bar. Seja em uma ponta ou outra do quarteirão, os bares eram a primeira parada dele ao voltar do sítio. Chegava quase sempre falando demais, brigando demais, reclamando demais...
Mas foi também naquela casa que testemunhou o nascimento de outro marido, quando deixou a cachaça e os bares de lado. Foi naquela casa que deu abrigo para o resguardo das filhas, para os cuidados com os netos. Foi naquela casa que lavou roupa dos vizinhos para ajudar nas despesas de casa em tempos que estiagens ou chuvas em demasia atrapalhavam a lavoura. Foi naquela casa que nunca passou fome, mas que já teve somente arroz, feijão e ovo, todos vindos do sítio, para comer.
Foi naquela casa que hospedou a mãe e cuidou dela no fim da vida. Mesmo fazendo de um tudo por ela foi ali que escutou Maria Pequena dizer que preferia a comida, a casa e a companhia dos outros filhos. Foi naquela casa que teve a mãe morrendo diante de seus olhos. Foi naquela casa que viu os três filhos crescer e ganhar o mundo. Foi naquela casa que acendeu suas velas, que se valeu de seus santos, que caminhou para sua evolução espiritual.
Foi naquela casa que caiu fazendo um simples café. Justo ela que tinha de levantar às cinco horas da manhã para fazer almoço, encher o caldeirão do marido, colocar na cesta, junto dos talheres embrulhados num guardanapo de pano e de um lanche, geralmente um pão com mortadela. Também colocava uma garrafa de café. E no fim da tarde a cesta voltava cheia de frutas da época, de verduras e legumes, de ovos e do caldeirão para lavar e encher novamente no outro dia.
Foi naquela casa que lavou, cozinhou, esfregou, passou, encerou, limpou, bordou, costurou, remendou. Foi naquela casa que viveu sua vida simples. Foi naquela casa que criou canários, galinhas, codornas, tartarugas, cachorros e até uma porquinha. Foi naquela casa que por muitos anos conseguiu reunir a família em torno de uma mesa enorme de madeira nos almoços de domingo. Foi naquela casa que fez sua polenta com frango ficar famosa. Foi naquela casa que ouviu modas de viola e novelas num radinho. Naquela UTI silenciosa não havia espaço para música. E ela também não tinha mais vontade de cantar. A voz que cantava boleros estava fraca, desafinada.
Se ao menos estivesse em casa. Mas estava longe. Se ao menos então estivesse num quarto do hospital. Quando lá, meses atrás cuidando do câncer, uma procissão da igreja de São Benedito, que descia a rua do hospital, parou em frente sua janela e cantou e rezou para ela. O padre falou seu nome e tudo mais. Ela conseguiu chegar até a janela e acenar para aquela família que havia construído vencendo a timidez e uma série de inseguranças.
Contra tudo e todos, tornou-se militante da fé. Participou de aulas, encontros, seminários, viagens em nome da igreja católica. Venceu a vergonha e se tornou ministra da Eucaristia. Seu grito de independência. Líbio nunca disse não a sua vida religiosa. Respeitava e sabia que devia isso a ela. E ela lhe era grata por isso. Quem diria que com aquele seu jeito acanhado dona Adélia iria parar uma procissão?
A emoção de estar num altar, como auxiliar da missa, dando comunhão, era a coroação de uma vida de oração. Adélia, passo por passo, vencia sua via crucis. Pena que dali, daquela cama, não daria mais passo algum. Se pudesse andar novamente, talvez fosse ao que restou da Caputera, ao Sítio Boa Vista, a casa da Rua São Pedro, a uma caminhada em torno do Lago Lavapés, à igreja de Monte Serrat, ao túmulo de seus pais, de Geraldo, à casa de Lena, de Hélio, aos bailes do Clube da Saudade, à casa de seus filhos, à Aparecida do Norte, à praia, a Brasília, a sua casa na Rua São Miguel... Se pudesse andar novamente, certamente, queria andar da forma que ela mais gostava – descalça.
Queria poder dar tantos passos, mas sua estrada acabava naquela cama. Chegou ao hospital carregada, sobre uma maca. Seus últimos passos foram em direção ao fogão, dentro da sua própria casa. Não deu tempo nem de oferecer a parte do café diário que cabia a São Benedito. A última pessoa que a viu andando foi o marido. Pena que não a pegou nos braços e valsou uma última vez Saudades de Matão com ela.
Sua boca que sempre cobiçou pêssegos, nectarinas, camarões, tortas holandesas e que se privou de muito disso em razão de sua condição financeira (e do medo constante de não ter uma reserva para caso caísse de cama) agora não desejava mais nada. Havia perdido o apetite. Desde o câncer não tinha a mesma fome de antes. Naqueles dias finais só comia iogurte, gelatina, sopa... Estava indignada, pois as enfermeiras haviam furtado dois de seus iogurtes. Era como se pela vida inteira ela tivesse sido roubada das coisas que mais gostava.
A mulher que adorava comer acabava seus dias tomando um soro sem gosto, sem tempero, sem cheiro. Nada das gorduras de porco, das tortas de azeitona, dos bolos de fubá cremoso, das baciadas de jabuticaba, dos queijos que ela própria fazia. Nem os cheiros verdes do quintal, nem o alho moído na máquina de carne com sal, nem os potinhos com orégano, nem o limão que gostava de pisar para tirar o sumo, nem qualquer coisa que pudesse dar mais sabor aquelas suas últimas refeições. E pensar que gostava de se lambuzar com mangas e macaúbas.
Estava ali sem ter para quem contar suas histórias e sem qualquer coisa que pudesse dar graça aos seus momentos finais. Valia-se de suas histórias com uma lucidez que só fazia redimensionar a tristeza de estar ali. Se ao contrário daqueles remédios ela tivesse um copo de caipirinha, uma taça de sidra, um cálice de vinho tinto suave ou uma garrafa de São Rafael...
Ao menos ainda lhe traziam hóstias consagradas, pílulas de Frei Galvão, água benta. A época de cuidar do corpo já havia terminado, sabia que estava ali, naqueles dias, para preparar o espírito para a passagem. O alimento, sendo assim, era outro. Por mais que ainda quisesse muito, sabe que teria que se contentar com o pouco que teve. E era agradecida por isso. Aprendeu a amar, a perdoar, a se entregar. Era uma pessoa melhor do que um dia o foi. Mas se ela pudesse escolher, é claro que queria colo de mãe, de marido, de filho, de neto...
Queria partir nos braços de alguém que amou e não numa cama estreita e fria de hospital, sem ninguém por perto para apertar sua mão, conter seu choro, dizer palavras de conforto. Queria ao menos alguém para poder contar uma última história sua ou para dizer adeus ou para ainda falar que não queria morrer. Mas não teve esse privilégio. Talvez, seu último castigo rumo à purificação foi o abandono em sua hora derradeira.
Ela que ainda pensava em fazer tantas coisas, tinha de se conformar que não seria mais possível ir adiante. O quanto chorou ali sozinha? Já não sabia se algumas pessoas que passavam por ela eram funcionários do hospital ou anjos. Conversava sozinha, em silêncio, mas era como se suas lembranças gritassem dentro dela. Queria falar um pouco de si, mas não tinha ninguém para escutar. Ela que nunca gostou da solidão tinha de se habituar a ela. Estava sozinha agora. E para onde iria não poderia ter a companhia de ninguém daqueles que ela estava acostumada a conviver. Era uma estrada que precisava trilhar de forma solitária, embora levasse dois mundos com ela. Um mundo de coisas ditas, vividas e outro de coisas não ditas, não vividas. E esse segundo parecia muito, mais muito maior que o primeiro.
A mulher que viveu como um passarinho de asas curtas, cujos vôos nunca se distanciaram muito do ninho, enfim pode voar para longe, para o alto, para as nuvens que sempre acreditou ser a morada dos anjos e dos santos, os quais, por mais que ela tenha pensado e até dito nas suas horas finais de desespero, jamais a abandonaram. Foram eles que sempre escutaram suas histórias, aquelas que ninguém quis ouvir. Setenta e um anos depois, Adélia finalmente voou. Voou leve, voou solta, voou feliz. Voou para além de sua casa, de seu sítio, de sua cidade, de seu amor, de sua família, de sua realidade e das histórias que foram, a cada bater de asas, espalhando-se no ar.
E então, veio a chuva e aquelas sementes de Adélia foram plantadas nos mais diversos terrenos, para um dia enfim serem saboreadas como ela sempre sonhou...
Observação do autor: Hoje, se ainda no plano terreno, Adélia, minha avó materna, estaria completando 74 anos. A ela, os meus agradecimentos e a minha saudade.
Comentários
Nossa que lindo texto mostra sentimentos verdadeiros que nao se vê mais nos dias de hoje...parabens
Daniel, Parabens pelo texto, eu tive oportunidade de conhecer a tia Delia e consigo me identificar com cada palavra que vç escreveu, realmente ela foi tudo isso que vç conseguiu atraves das palavras expressar. Parabens mais uma vez
PARABENS LINDO TEXTO
Filha de Madalena e sobrinha de Adelia, essa mulher foi um exemplo de pessoa pra mim, muitas SDS até hoje e como diz o texto, realmente não foi possível recuperar o tempo perdido e nem 1000 anos seria.
ex marido da Lena
Escreva um comentário
Participe de um diálogo comigo e com outros leitores. Não faça comentários que não tenham relação com este texto ou que contenha conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade. Eu me resguardo no direito de remover comentários que não respeitem isto.
Agradeço sua participação e colaboração.